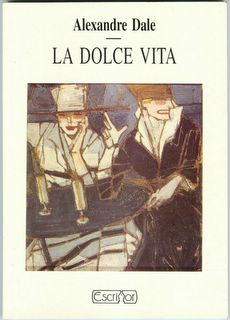FICHA
Edição: Editorial Escritor, Lda.
Hoje está dia-pastel como só alguns de outono, bom de saborear, não se consegue ficar em casa, e aí vai ele até à esplanada do costume, beber e ver pessar, gente, carros, e coisas no pensamento.
Buracos nos bolsos das calças. A cara velha dos pais ao pequeno-almoço. Quem lhe dera a bebedeira de não beber, de não saber, não acabar os seus dias com alma de português. Se quisesse acreditava, europeu e feliz, mas não lhe apetece. Ele sabe. E que se lixe. Que se foda, a europa e o resto. Topa-a-tudo, talvez, mas parvo não. Nada de bandeiras. A sua oportunidade há-de surgir. Ei-lo à espera, atento. Só há uma para cada pessoa, pensa ele. E talvez pense bem. Na fábula, ao fim, tanto morrem as tartarugas como as lebres. Há-de ver-se. Será como estalar os dedos.
“Ó empregado, trás lá então mais uma cerveja, dessas que só servem para mijar.”
Tem um livro sobre a mesa, mas não lhe apetece ler. E dá por si a olhar as pernas da mulher nova na mesa em frente, sozinha, a folhear um jornal, daqueles que dão para um dia inteiro, um semanário, cinco quilos de papel de terceira, as pernas excelentes cruzadas, a mostrarem-se até meio das coxas, em frente, em frente, cenário, luzes, agora as mulheres são todas grandes atrizes na grande comédia da tusa, e o mundo é o nosso palco. Melhor assim, e que se lixe, não há nada a fazer. As pessoas são como são, e a vida é como é.
Para o sexo também tem uma teoria: o mínimo de causas para o máximo de efeitos. Não perder tempo, nem dinheiro, nem palavras. Sorrir um pouco, talvez, e dizer, enquanto se acende um cigarro, ou apenas se está a olhar: “Vamos?” Mas depois não é nada disto: é mesmo sorriso só, moral a espreitar, conversas desencontradas. Festa às vezes, enfim, quando os olhos brilham. “Vamos?” Os olhos olham. Vai-se.
Carlos podre de chatice, às três da tarde. Carlos-pronto-para-a-vida. Carlos romântico, em pose de fotonovela, que já é um homem, e um tipo também tem de jogar com o cenário, cenário para a paisagem, para o formigueiro humano, para as pernas dela, na mesa em frente, a ler o jornal, atenta, trinta anos, provavelmente um pouco frustrada. É como ele diz, está-se sempre a inventar.
“Deixa a mulher em paz. Fica-lhe só com a imagem das pernas, a fugirem da saia apertada. Para te lembrares mais tarde, por exemplo. Para imaginares um poema: a poesia do sexo perfeito.”
Carlos boceja, são três e trinta, levanta-se, paga as duas cervejas que bebeu e aí vai ele de novo, agora rua abaixo. Vai de óculos escuros, o livro entalado no sovaco, a fumar, com as mãos enfiadas nos bolsos, a tocar-se na pele pelos buracos. Pobrezinho mas honrado. Quando for grande, alcançará a América. “Vá, filho, continua a nadar.”
Agora, rua abaixo, e é como se estivesse numa ilha: conhece toda a gente, nem que seja só de vista. E as crianças estão a crescer. E a vida é assim, meu filho. (Continua a nadar).
Montras. Roupa interior e máquinas fotográficas. O barateiro dos sapatos de sola de borracha. Móveis. Croissanteria. Pizzaria. Plásticos. Tintas. Últimos modelos. Mais pernas de mulheres, passeio acima-abaixo, a cruzarem-se com Carlos. Bendita invenção, a mini-saia, o verão sempre a recomeçar.
Tenta compreender qualquer coisa de uma coisa qualquer, mas tem a cabeça vazia, cheia de barulho, e nada a enche. Barulho, apenas: engrenagem de desenho animado desanimado. Hoje à noite vai apaixonar-se, com certeza. É sexta-feira, e todas as semanas lhe acontece o mesmo. Mas já festejou o aniversário, já apanhou a sua grande bebedeira anual. Devagar, pois, ó paixões, é apenas mais uma noite cheia de lua. Uma noite boa para dançar.
“Porra, tantos europeus. Deve ser alguma praga.”
Dá consigo noutra esplanada, a beber mais cerveja, com magotes de velhos a grasnar à sua volta: a morte lenta, um medo horrível, a repulsiva inveja dos outros, dos que ainda têm toda a vida à sua frente.
Um deles pergunta-lhe as horas. Faz que não ouve. Não quer ser mais nem menos que bem-educado. Em silêncio, é como se pedisse que lhe respeitassem o seu desejo de não falar. Mas as pessoas não se entendem: basta que se veja o que fazem com as palavras. E o velho torna a repetir a pergunta.
— Não sei — diz Carlos. — Não me chateie.
— Estou a perguntar-lhe as horas — insiste ainda o outro, que deve ser surdo.
— E eu disse que não me chateie.
Não, nunca há-de ser velho, decide Carlos. Volta-se para o lado contrário. Que se lixe. Os tempos vão difíceis, até mesmo à sexta-feira, um tipo não pode ser bom, um tipo tem de ser topa-a-tudo, nos tempos que correm, são tempos difíceis.
Carlos, às vezes, receia começar a chorar, assim de repente. Percebe tudo muito bem. Antes não percebesse.
A mãe: “que vais fazer da tua vida?”
Ora, é fácil: vou ser herói, vou alcançar o topo da fama, vou fazer uma cruzada a favor da felicidade. Uma Guerra Santa.
“Não sei”.
Pois que há-de ele dizer? Não sabe, eis a verdade. Anda a pensar. A aprender. A tirar um curso sem diploma. Vai montar um bordel na cidade. Leu isso num livro, pareceu-lhe uma boa ideia. A vida é um livro cheio de boas ideias a cores, a vida é um livro cheio de mortos a preto e branco, a morte é um livro em branco, a morte é uma ideia. Assim, outro fosse ele e já teria morrido, por vontade própria. Mas Carlos não: anda a topar — tudo, de preferência.
“Suas putas, seus cabrões...” Se fosse do espectáculo, seria sempre esta a sua entrada. Como não é, sai da esplanada e entra no café, a ver quem está e quem não está, olá olá olé. Descobre uma amiga, sozinha numa mesa redonda. Descola-se do varandim que separa a sala de cima da de baixo, desce as escadas e vai ter com ela. Olá, olé. Senta-se. Então? Conta coisas.
— Conta coisas.
— Estou para aqui a estudar o código da estrada....
— Vais tirar a carta?
— Vou. Mais uma mulher ao volante.
E ri-se, coitada. E coitadas das mulheres, que nunca mais se habituam a ser.
— Faz jeito — diz ele, por dizer.
— O quê? Mais uma mulher ao volante?
Ahahah.
— Não sei.
— E tu?
— Tudo bem.
— O que é que andas a fazer?
— Tempo.
— Para quê?
— P’ra nada.
— Estás à toa.
À toa. Está à toa. Deve ser isso.
Ela chamas-e Aurora. Tem um incisivo cariado. Uma nuvem, lá fora, apaga momentaneamente o sol. Tudo condiz com tudo, a realidade não-humana tem bom gosto.
— Quando é que arranjas esse dente? — pergunta ele.
— Quando tiver dinheiro.
— E entretanto vai-se andando, não é?
Ela encolhe os ombros, com um sorriso amarelado.
— Bom, deixo-te em paz — diz ele. — Para estudares melhor.
— Não me incomodas.
— Ainda bem.
Mas levanta-se e sai. Não se sente capaz de ficar parado. À porta, dá de caras com uma Anabela de outros tempos e outras voltas, olá, olá, então?, contemos coisas, três polícias, cento e vinte carros brancos, doze bancos de madeira pintados de vermelho, e lá estão os velhs, mais velhos, só velhos.
— Então? De férias ou a trabalhar?
— Férias. Mais uma semana.
— Cheia de sorte. Não vais à praia?
— Já não está tempo para isso.
— Hoje tem estado.
— Não tenho companhia.
— Acontece.
— E tu, o que é que fazes por aqui?
— O que sei fazer melhor. — Carlos sorri. — Nada.
— Ah, pois. Como é que está aquilo lá dentro? — pergunta ela, referindo-se ao café.
— O costume. Pessoas. Barulhento.
— Ando farta disto tudo.
— A culpa é dos velhos. Os velhos atraem as moscas, e as moscas não nos deixam em paz.
— Coitados, não fazem mal a ninguém.
— Coitados? Neste país, cada vez que alguém pensa ou tenta fazer alguma coisa, surge logo um velho para impedi-lo. Coitados? Coitada de ti e coitado de mim, diz antes.
— Não é tanto assim.
— Pois não. Isto é mania minha, que odeio os velhos. E todas as gerações são perdidas, etc.
— Estás a falar para aquecer.
— E fala-se para outra coisa?
— Não me chateies, estou de férias.
— Pois sim.
— Pronto, eu calo-me. Vamos beber alguma coisa?
E vão, e bebem, e já estão a falar outra vez, a sua conversa de nadas. Aurora ainda lá está, concentrada no seu grande estudo. Tem umas boas mamas. Ainda há-de ver isso melhor.
Fazem-lhe sinal, braço ao alto, e ele vem sentar-se com eles, olá, olé. Aí estão os cadernos da arte em cima da mesa.
— Então o teu livro? — adianta-se logo a Anabela.
— Qual livro? — responde Luís Miguel.
— Deixa ver — pede Carlos, pegando num dos cadernos do outro. Lê, em voz alta: — “Heróis”, super-romance, por Luís Miguel, criador artístico, 1999.
— Não inventes — diz Luís Miguel.
— Está bem, vou ler só para mim — diz Carlos, num tom misturado e falso de amuo e mistério.
Capítulo Um. Começa a ler, um primeiro parágrafo muito longo, com escassos pontos finais pelo meio. É preciso acender um cigarro, ir bebendo a cerveja aos poucos. Comecemos então, de facto. Blá, blá, blá, blá, blá blábláblá. Um tilintar mais agreste, à esquerda, e é um copo a partir-se no chão.
Já se perdeu. Tem de recomeçar. Agora lê dez linhas de seguida, sempre a tentar perceber, sempre com a impressão profunda de que alguma coisa, algum significado profundo lhe está a escapar mesmo frente aos olhos. Reconhece poesia, devaneios — a evocação de algumas sensações que também são suas, talvez — , mas nada mais. Como se não soubesse ler, ou o texto estivesse escrito em outra língua, pouco mais que desconhecida.
Recomeça ainda uma terceira vez, mas acaba por desistir à vigésima linha. Mas sim, com certeza, Luís Miguel tem jeito para aquilo. É mesmo escritor, qualquer um o percebe logo. Carlos fecha o caderno, poisa-o sobre os outros e diz:
— Vai sair obra-prima, não duvido. Qual é a história?
— Não tem.
— Então?
— É um romance a andar de cá para lá.
Porque dá muito trabalho, inventar uma história. E a realidade, essa, já tem confusão que baste. O que é preciso é ir olhando e escrevendo. Porque quem escreve histórias são so velhos, que já não têm tempo nem paciência para se meterem noutras coisas, ou então os rapazinhos e as rapariguinhas precoces com avózinhas dos contos de fadas.
— Não se aprende nada com vocês — protesta Anabela.
— Bebe mais uma cerveja — propõe-lhe Carlos, bem-humorado.
— Vou jantar a casa da Paula — diz ela. — Ficam?
— Eu vou jantar também — diz Carlos.
Enquanto Luís Miguel fica mais um pouco, a escrever, provavelmente acerca do chinfrim nos grandes cafés suburbanos e da superficialidade das relações humanas.
Anabela vai agora rua abaixo, e Carlos rua acima, porque a vida é assim mesmo, a vida faz-se na estrada e as estradas têm dois sentidos, e qualquer um só caminha quando o faz pelos seus próprios pés.
Ainda vai longe de casa, o Carlos, mas já lhe cheira bife. Sim, aposta que é bife, que é batatas fritas, que é vinho tinto e pão e sopo e fruta. Aposta porque sabe. É um espertalhão. Um idiota. Contudo, esta ideia da comida quente e pronta a comer reconforta-o, e ajuda-o a acreditar no inacreditável, ou seja: que ainda é possível sobreviver, que a vida não é um drama sem solução, que o amor pode surpreender o viajante numa qualquer esquina.
Olá, olé: um rosto desconhecido num autocarro a passar. “Um rosto desconhecido num autocarro que passa”. E um ruído de travagem: olhares súbitos, como sempre, à prucra de sangue. Sempre humanos.
Por cima das nuvens, só os aviões, os satélites e os super-homens. Mas talvez viver junto ao chão também tenha as suas vitudes.
Não, de nada serve ter sonhos e ser homem.
Entra em casa e entra no seu quarto e põe música a tocar baixinho e despe a camisa e abre a janela e acende um cigarro e fuma.
É bife, é pequeno-burguês, é remendo, poupança, é luxo do estômago, modéstia do sonho, dias a seguir a dias. É o pai, que está de férias e por isso não faz a barba, e a barba vai crescendo, fina, branca, mas despida de qualquer encanto ou sabedoria, porque a imagem não corresponde ao homem. Está velho, eis a questão. Um dia destes reforma-se, e então começa a passar as tardes nos bancos dos jardins e das praças públicas, à espera da morte. Será o tempo de Carlos o odiar. Por enquanto, faz despertar nele um vago sentimento de piedade, e Carlos, perante tal impasse, só consegue odiar-se a si próprio.
Batem-lhe à porta do quarto. É a mãe.
“A comida está na mesa”.
A mãe-galinha, a mãe-formiga, a mãe-sombra, sempre de um lado para o outro, sempre a descobrir qualquer coisa para fazer, sempre a silenciar-se de repente para pensamentos semelhantes a circunferências.
“Já vou”.
Atira a ponta do cigarro para a estrada. Vê-se ao espelho. Sente-se feio. Dantes, ainda tinha algo: um brilho, uma clareza. Mas o que ele vê agora é o rosto de um estranho, e esse rosto está doente, e a doença está fora do catálogo.
Já escurece mais cedo.
“Não gosto de polícias”. Carlos, sozinho em si, vais pensando as suas listas de Sim e Não. É preciso praticar: saber do que gosta e do que não gosta há-de ajudá-lo a chegar a alguma definição.
Fim da sopa. (Definição da indefinição).
E regar a carne com vinho, que o molho é fraco. “De beber gostas tu”, diz-lhe a mãe, quando ele enche o copo segunda ou terceira vez. Pois sim. Mas é porque precisa de calor no sangue, que quando o que corre nas veias é água um homem fica igual a camelo.
Etc. Não, não é nada disso. Filosofias do pai, de mil pais assim, que Carlos aprendeu para não lhes entrar no jogo, entrando. É parvo mas não é parvo. O álcool deprime o sistema nervoso, mas, até chegar a isso, vai soltando o riso nos olhos. E quem se ri sem usar os olhos é porque continua triste. Então, que se alegrem os olhos, e que seja o que deus quiser, ah man.
Come à pressa, dez, quinze minutos. Foi o que aprendeu com essas grandes instituições perdidas no tempo, a família, os militares. Come à pressa para não aturar as más digestões dos outros.
“Então e a fruta?”
Tira uma maçã da fruteira e enfia-a no bolso do blusão. Lava os dentes e mija e diz boa-noite até logo. Até amanhã seria mais preciso. Mas não vale a pena, já sabem bem como é.
Na rua, passa por um puto pé descalço, ranhoso, e pergunta-lhe:
— Queres uma maçã?
O miúdo aceita.
“Agora estás lixado, seja original ou não, o pecado. Mas que se foda, puto. Vá, come: quem pode matar a fome tem um bem”.
E avante. Vamos lá então procurar as manadas da noite em festa, os loucos animais com sede e cio, que também esses são apetites a saciar.
Aí está ele, a meio do caminho, no mesmo café da tarde, o segundo, os velhos a jantar sabe-se lá onde.
— Então? — É o Cipriano. Tem uma cicatriz na face esquerda. É dealer. A retalho.
— Tens haxixe? — É o Carlos. Tem uma cicatriz numa neura qualquer. Ainda não é nada de concreto. Está de passagem.
— Vou tomar uma cerveja — diz o outro. — Tem calma.
Yes yes. Calma. “Vai-te então, ó estúpido, vai-te foder que eu espero”.
À espera. Olá, olé: é, a passar, a dez metros, uma das mil e uma jóias eróticas e provincianas da cidade, os olhos bonitos, os lábios vermelhos, as pernas compridas. É sempre a mesma coisa, ou não será? Vistas de longe, as pedras preciosas terão todas um brilho semelhante, sejam elas diamantes ou rubis ou esmeraldas ou? Assim se perde ele a olhar as mulheres e as raparigas, que são muitas, em subtis re(vira)voltas adejantes, mil vezes já vistas e revistas, pois são as mulheres e as raparigas de todos os dias.
Agora o negócio proibido já está feito. Calma e descontracção. É preciso continuar a descer a avenida. Quem não vai até ao fim nunca chega a saber.
Dez minutos depois, começa a sentir o cheiro do rio próximo e do marisco nas cervejarias turísticas. Entra numa, senta-se, pede uma cerveja ao empregado, que o cumprimenta, boa-noite, como está, não há que espantar, é cliente quase diário, sim, está como de costume, com vontade de se embriagar e rir e fazer amor e vomitar e rir outra vez. Está sentado, semi-reclinado, absorto. A tratar da sede. Um bocadinho melhor, obrigado, desde a última, pois, pois é.
Onze horas, e vai chegando mais gente, para beber cerveja e contar mais histórias, tão boas como as da semana passada, ou até talvez sejam as mesmas, mas é a sua vida, nem mais. Sempre iguais.
Messieur cabelos-no-peito diz eufodieaconteci&tal. Messieur rocanderróle (isto é suburbano, industrial, o som é duro), trauteia para Messieur-o-pintor a sua última melodia, só para que os ouvidos virgens se vão habituando. Madame-university faz, alto e bom som, o auto-de-fé daquela sua muito amiga que, não obstante, é insuportável, ou não andasse a querer roubar-lhe o namorado. Messieur-photo, Messieurs-teatro, Girls Plastic, oh.
O ar está muito artístico e concorrido, ou não fosse sexta-feira, começo de mês, dinheiro fresco. Até o Luís Miguel, lá ao fundo com uma rapariguinha e sem os cadernos sacramentais. Devagar, como quem não pensa nisso, vai-se praticando a caça erótica, o lançamento desportivo dos anzóis, os olhares sinuosos e cheios de significados cabalísticos. Oh, sim: chupa-me, garota.
E ri-se o Carlos, ri-se o Luís Miguel, A Nossa Senhora de Pitos-e-Mangalhos, toda a gente a rir, é uma festa, deve ser, tem de ser.
Sim, como o tempo não pára e as portas comerciais pelo caminho se vão fechando, toda a população viciosa acaba por vir acampar aqui, na Penúltima Estação, antes da travessia do rio, a fumar haxixe, a beber, a discutir, a conversar, a aborrecer quem passa ignorante, a cantar, a ver as luzes marginais na outra margem.
— Que horas são?
— Paga-me um copo.
— P’ra onde é que vais hoje?
— Mais duas canecas.
— O caralho.
— Viste o Black?
— Eu só quero saber...
— Não me chateies.
— Foda-se.
— Hã?
NOTA
São nove da noite e ela mora longe do centro da cidade. Hoje vai mulher, com sapatos de salto alto, saia preta e blusa branca, brincos em forma de argola grande, dourados, e o cabelo apanhado de um carrapito, de modo a deixar-lhe o pescoço libre, simultaneamente desprotegido e tentador.
Morar longe significa ter casa num deserto de casas, onde às nove da noite os cafés fecham, e às dez já não se vê vivalma nas ruas.
As casas são de um só piso, na rua dela, já velhas, mas a maior parte tem bons carros à porta.
Entra no café junto ao liceu — único ainda aberto — e encontra os amigos a beber cerveja. Pede um café e um licor. Conversam.
— Vamos? — diz alguém, em certo momento.
Estão prontos. A noite espera-os. Vão.
ESCREVE LUÍS MIGUEL (para o seu romance)
Vi no relógio grande da cervejaria os ponteiros a marcar a meia-noite, e pensei: “bom, cá estou eu outra vez”.
Tinha dormido vinte e quatro horas de seguida. Acordara definitivamente às dez (saíra da cama uma única vez, para mijar), estivera a ler até às onze, e então tinha-me levantado, para tomar duche, vestir-me e sair. Jantei num restaurante que funcionava até tarde, mas tudo isso era já passado, e agora parecia-me que, para contrabalançar, ia ficar acordado vinte e quatro horas. Assumi tal hipótese, aliás, como uma decisão.
Tinha feito uns negócios há dias (continuava a recusar-me a trabalhar), e havia algum bom dinheiro no meu bolso. Tal facto compensava, até certo ponto, ter gasto um dia da minha vida somente a dormir, se bem que ainda sentisse um peso algo esquisito na cabeça.
Mandei vir uma cerveja. O C., que estava à minha frente, mandou vir outra. Quase frio, nessa noite, e nós a beber cerveja gelada. Mas ali dentro esta quente, acolhedor, fumarento e luminoso, cheio de gente barulhenta.
— Vais ficar aqui? — perguntou-me C.
— Não tenho planos. Só sei que não vou dormir.
— És maluco.
— Ah sou?
É que, se eu o era, não havia quem não o fosse. Talvez alguns disfarçassem melhor, nada mais.
— Eu digo que és.
— Então ainda bem.
Ora... C. dizia aquilo por dizer. Por falta de definição pessoal.
Nesse momento, vi entrar B., o qual, até à última informação, estava doentinho, na cama e tudo, mas que agora, ali, apresentava apenas o ar atarantado do costume, a olhar para ver quem havia e a não ver ninguém. Fiz-lhe sinal, e ele aproximou-se. Pediu uma cadeira vaga da mesa ao lado, onde um casal de gordos se atafulhava de mariscos, e sentou-se à nossa mesa.
— Então, já te curaste? — perguntei-lhe, como se estivesse a falar de uma bebedeira.
Ele tem sentido de humor, mas trabalha a carvão, e é um bocado enviesado. Às vezes ri-se muito de coisas com pouca graça. Por isso, ou sabe-se lá porquê, tivemos de estar a ouvir a história toda da sua doença talvez contagiosa.
Disse-lhe, à laia de contraponto, que lera ainda há pouco uma óptima novela de ficção científica, e que o autor me convencera de que, até certo ponto, a loucura era um estado normal do ser humano. C. também lera o livro (pisquei-lhe um olho), podia confirmar. Confirmou.
Depois, naturalmente, começámos a falar de cinema, que era a paixão frustrada de B., porque não tinha dinheiro nem para ser feliz, e o cinema é coisa cara de fazer.
Disse-lhe que tinha uma história — um argumento — , óptima, e ele entusiasmou-se logo, e quis saber o que era, mas principalmente o orçamento.
— Mais caro que caro — disse-lhe. — É só para quando fores grande. Mas vou-ta contar, seja como for.
Estávamos no Carnaval, e o argumento em questão era carnavalesco, mas bom. (Julgo-o sem preconceitos, até porque nem sequer era meu). Vendi-lhe a ideia o melhor que pude. Ele continuou entusiasmado. Tornava-se fácil, ali sentados nas cadeiras confortáveis da cervejaria, a tomar copos. Éramos peritos do sonho.
Unanimidade de vontades. Pagámos e fomos apanhar o ferry-boat para a outra margem. Estivemos a fumar haxixe enquanto atravessávamos o rio, que estava escuro e fundo e de superfície quase espelhada. Fazia frio a sério, o barco parecia deslizar em cera fundida, e mal se notavam os motores, nem mesmo ao ar livre, onde nós íamos, às voltas.
Nisto, demos com R., que disse que ia-para-ali perdido.
— Onde é que vão? — perguntou.
— Ver as modas nocturnas — disse eu, que tenho o irritante (creio) hábito de me adiantar.
Mas ninguém discordou.
Acabei por também falar das musas do rio, das luzes da cidade que atenuavam a das estrelas, dos barcos que se cruzavam nas águas paradas da viragem da maré, da ponte que era como certa ponte norte-americna, e das sete colinas, que eram como as de uma capital europeia, outra, mais antiga, dizia-se. Nessa América distante talvez estivesse mais calor que ali, nessa ponte gémea, cars & kisses. E da outra, da mais antiga, que se via? Ruínas.
Mas era óbvio que o mundo tinha assimilado pedaços de nós, a ponto de assumi-los como seus.
Ou vice-versa. Também aqui nenhum deles discordou. Nacionalistas cosmopolitas, limitando-se a encorpar as minhas ideias de improviso com alguns comentários parolos e risos. No fundo, todos eles sabiam que eu era um doido razoável, que escrevia livros que acabavam numa gaveta qualquer, com as traças a lê-los.”
FALA O CARLOS
Ando a fumar o supra-sumo de uma planta maluca para ver se me excedo. E fujo, fujo, mas cada vez mais para dentro de mim. Um dia destes peço socorro e já não me faço ouvir. Ando a destruir-me, desta e de outras formas, e, provavelmente, a solução da charada encontra-se no pólo oposto, irónica.
E isto é de tal modo que, de vez em quando, vêm pessoas ao meu encontro, para falar comigo, perturbadas, ainda bem que te vejo. São seres do meu tempo, esses que se confessam, como se eu tivesse linha telefónica directa para algum deus da magia fácil. Não será o caso, eu sei, eu compreendo. Mas tudo isto só me leva ao riso, porque sou o último dos ignorantes. Devo ter, no entanto, silêncios sensatos, ou um olhar particularmente atencioso, porque me agradecem toda a minha compreensão, e toda a minha boa vontade, que não passa de uma expressão da minha condescendência.
Às vezes, a meio do dia, acontece-me explodir em gargalhadas de origens misteriosas. Não sabia a que se deviam, mas agora já sei: é a memória desse meu confessionário ambulante. As desgraças humanas. As paisagens iguais.
Digo: “oiçam o poeta”. Estou a gozar.
“Qual?”, perguntam-me.
“Todo o que o seja”, respondo. E estou a falar a sério.
Mas estávamos a falar de drogas e destas noites de cristal, não era? Então eu conto, isso e o que mais houver:
Vamos no ferry pata-choca a fumar os nossos cigarros para rir e a pensar e a falar. Alguém espreita o rio e diz:
— A água não tem cor.
— Exactamente — confirma alguém.
E pronto, de repente o teatro está montado: agora já podemos dizer e fazer tudo, como as crianças (de outro mundo): tudo flutua à superfície da luz, até mesmo o que vai mais fundo. Uma água que não tem cor é, sem dúvida, transparente.
Chegamos então ao outro lado do rio, à cidade grande. (Neste ponto do percurso cheira-me sempre a desolação). E vou cego, como de costume. O meu maior desejo é chegar — chegar a algum sítio real, uma vez quer seja.
(Penso: “sou Negro”. Porque tenho dos negros: a exactidão moral; os costumes dissolutos. Ou vice-versa).
Vistos destes ângulos, os polícias acabam por ter a sua graça: são decorativos — equiparáveis aos taxistas. E aos porteiros dos bares, cocainómanos com cara de buldogue.
— É entrar, é entrar.
“Mas portem-se bem”, avisam eles com o olhar. “E portem-se bem gastando muito”.
Sou bem do meu tempo: compreendo perfeitamente a essência destes ritmos fortes e alucinados. A electricidade. O ruído.
Esta loira que dança à minha frente toca-me: o rosto, com os cabelos — e, com as nádegas sedosas, a minha mão solta, suspensa do braço apoiado no balcão.
Esta outra, morena, espiralada, procura quem lhe pague mais uma cerveja; roça-me com o seio direito, solto sob a blusa. Agarro-a com força. Ela deixa-se apertar, sob os meus dedos insinuantes.
Agora estou a falar para uma embriagada sóbria, transbordante de felicidade infeliz. Ela passa sem ouvir, sorriso patético, em transe — o ritmo comanda, lembrem-se, o suor a aflorar a luz.
Ver e ser visto. Ser diabólico. Ser invisível. Vou circular por aí. Vale tudo? Pois. Também poderia dizer: estou cansado. Mas para quê? Quer eu queira quer não, a vida está cheia de esperança. Podia até contar-lhes algumas histórias acerca disso. Não é de histórias que vocês gostam? Mas fica para outro dia. É que se, de facto, estou cansado, então é preciso que descanse. Vejamos. Ora vejamos bem.
Dancemos. Apenas.
ESCREVE O LUÍS MIGUEL (ao acaso)
As universidades, as escolas de arte, os colégios, todos os pequenos cemitérios desta grande e antiga urbanização vomitaram hoje, para as ruas sinuosas, as suas bizarras crias. O dinheiro escorre por mesas, mãos, balcões, e não tem cheiro. Cheira a cona ou a suor ou a sarjeta, mas o seu valor mantém-se. Só não sai o vermelho, não sai o número da sorte, o jackpot prometido. Vamos então lá até ao fundo e depois volta-se para trás e depois logo se verá.
Mas o mar é contrabandista, e no depois-logo-se-vê as universidades não param: bizarras crias, amores de leite. Uma falsa loira cambaleia, rua acima, em sapatos de salto alto e meias de renda de fantasia. Sim, anda muito dinheirinho nesses bolsos.
Mil polícias controlam, cheios de juventude com bigode, renovação da imagem pública, etc. Aqui ao lado, ao balcão, um deles, à paisana, faz-se de bêbado. Anda a investigar. Mas não entende nada. É como pensar que um homem pode perceber o que é dar à luz. Estúpidos polícias, estúpida noite. Azar ao jogo? Aposte outra vez.
Há, entretanto, também, outras questões a considerar: gente que já não tem dinheiro ao dia seis de cada mês, por exemplo. Assim, fazem sopa de feijão, arrastam os chinelos, têm os cotovelos dos casacos coçados, e resmungam.
Quem tudo vê de tudo pode falar. Merda. Então e a muita importância e a pouca importância das coisas? Ser velho, ser jovem, ter as unhas encravadas, ou cancro, ou acne, saber ou não saber...”
— Como te chamas? — perguntou ela.
— Não me lembro. Quem és tu? — Ela ainda abriu a boca, para responder, mas ele prosseguiu logo: — Não, não digas o teu nome. Diz-me antes: tens soutien vestido?
— Sim.
— Ainda bem.
— Por nada. Não ligues.
— Onde vamos agora?
— Não sei, sou estrangeiro aqui. O que é que sugeres?
— Que achas que deva sugerir?
— Como posso eu sabê-lo? Que sabe um estrangeiro, fora da sua terra?
— Vamos para minha casa.
— Que idade tens?
— Vinte e três. E tu?
— Um instante mais. Vamos como?
— De táxi.
“Vinte e três? Tinha pensado dezassete”. Claro: o rosto miúdo, a figura pouco acentuada, a própria roupa a diluir-lhe os contornos.
Contudo, quando ela se despiu, Carlos, a olhá-la, disse: “devagar”, e a olhá-la ficou. Já há muitos fins-de-semana que não via nada assim. E dizia: “fundo, fundo”. Não, não vamos já aí. Acabámos, isso sim, de chegar. A casa dela.
Depois, há também aquele mundo privado, novo para si, é preciso farejar, rápido como um detective, é preciso entender: reproduções baratas de quadros famosos pelas paredes, mobiliário sóbrio, TV, vídeo, hi-fi, uma estante grande e alta com numerosos livros, sofás usados, alucinação dos movimentos, e o quarto dela, sem bonecas nem posters de namorados ao sol-pôr ou cantores pop a pingar suor ou naftalina, e Carlos diz:
— Pensei que eras estúpida.
E ela perguntou:
— O que te fez pensar que não o sou?
E Carlos respondeu:
— Não é isso, é... Pensei uma coisa — Procurou-lhe os olhos. — Agora, não penso nada.
Ao que ela replicou:
— Vou-me despir e tomar um duche. Estou toda transpirada. Parece-me que dancei a noite toda.
É assim, portanto, que Carlos a vê nua, e fica a olhá-la apenas, como se estivesse a fotografá-la com a câmara secreta incorporada nos olhos a piscar, meio-cegos, perante aquele corpo pequeno e, no entanto, magnífico.
Depois pergunta, a voz apagada:
— A casa-de-banho?
Ela indica-lha e ele entra lá dentro e debruça-se para a sanita e um minuto depois, a ver a dobrar, vomita, está ela a ligar o esquentador, mas ouve aquele som inconfundível e vem ter com ele e pergunta-lhe:
— Estás a sentir-te mal?
— Não — responde Carlos, com a ironia que lhe resta. “Se calhar é mesmo estúpida”. — Estou a ver a dobrar.
Uma parte dele quer rir, outra escuta o estômago, outra quer saber as horas, outra respira o calor que emana do corpo nu dela, outra descreve o mau sabor na boca, outra tem sono, outra pretende afastar a sujidade, e todas seriam capazes de dormir, a partir de já, dez horas de seguida.
— Queres tomar um duche, também?
— Quero.
Ela ajuda-o a despir-se. A água corre, tépida, entram na banheira, ela escorrega, ela segura-o, ficam abraçados sob a água a cair sobre eles, a água a cair sobre nós, é uma delícia insuportável, a cabeça dela toca o nariz dele, e ele diz:
— Põe a água mais fria, senão adormecemos aqui.
Lavam-se um ao outro, vagarosos, metódicos, a esponja espumosa a deslizar insistente nas epidermes lisas, as mãos a tocar os sexos como se por acaso, ela agora ajoelha-se, para lhe lavar as pernas, mas põe o sexo dele na boca e chupa-o, ele fecha os olhos desequilibra-se outra vez, mas consegue segurar-se sozinho, toda esta água clara a cair sobre nós, ele ergue-a, toma-a pelos seios, beija-a na boca, diz:
— Se calhar já estamos lavados.
Agora limpam-se. A toalha é macia, grande, para dois. Ele ainda não está a ver muito bem, mas já não tem o mau sabor. Tem o sabor da boca dela. Beija-a novamente. Ela sorri.
Vão para o quarto. Deitam-se, um ao lado do outro. Ele está de barriga para baixo, com uma mão no tufo de pêlos dela, ela que está de costas, os olhos fechados, ambos como se tivessem acabado de fazer amor e estivessem a descansar, e não como se pretendessem fazê-lo, agora que já deram os primeiros passos para isso. Amor longo, longamente descansado.
A propósito: Carlos, são quatro e trinta da manhã.
Ele diz:
— Não posso ficar.
Ela diz:
— Não és obrigado.
— Queres fazer amor?
— Quero.
— Será que posso ficar mesmo mais um bocado?
— Se são os meus pais que te preocupam, eles dó voltam daqui a oito dias.
— Tanto não, qu é muito tempo.
Riem. O tempo. As coisas que nós dizemos. No fundo, sentem-se um pouco embaraçados. De facto, o que é isso que têm mesmo para dizer um ao outro? Tudo? Também isso seria demais.
Fazem amor. Mas ele acha-se pesado, e pede:
— Vem para cima de mim.
Mudam de posição.
Pensam-se milhares de pensamentos nestes momentos.
Também ela está cansada, agora. Param. Param a olhar-se, falam enquanto se olham, olham e não sabem já o que estão a dizer, falam.
— Não te queres vir? — pergunta ela. — Podes fazê-lo.
— Estás a gostar de fazer amor comigo?
Não, sim, muito, pouco.Minúsculas palavras, as melhores.
— O sexo é importante?
— Tem a importância que lhe dermos.
— Pois.
— Importas-te que estejamos a conversar?
— Não, de maneira nenhuma.
— Então continuemos. Passou-me o sono.
— Fumamos um charro?
— Também pode ser.
Fazem o charro, e fumam.
— Uma mulher nunca sabe o que é um homem.
Ela dá uma gargalhada.
— Claro — diz ele. — Isso é o que me falta mais.
— Conhecê-los como eles são — insiste ele, às voltas com o seu “bom coração” — , não como eles aparentam ser. O pior de um homem são os seus disfarces.
— Podia começar por ti. Tu disfarças-te de quê?
— De louco suicida.
— A sério?
— Não. Loucura suicida, como e com apoteose, essa é a minha realidade.
— E o disfarce, afinal?
— Não sei. Talvez de vampiro. Sugo sangue das virgens, vivo à noite, sou de raça azul. Todavia, a luz do sol não me afecta. A minha pele é mágica, aceita qualquer cor.
— És um camaleão.
— Isso, também. Camelo e leão. Um estupor, enfim.
— Estamos drogados, e ainda bêbados.
— Sempre. E sempre à procura de de novas, de melhores drogas.
— Já não queres fazer amor?
— Já alguma vez comeste e falaste ao mesmo tempo? Para além de ser contra as regras da boa educação, não dá muito jeito. Corremos até o risco de nos engasgarmos, não é? E como são pobres as palavras, quando o que se pretende é o diálogo dos corpos. As palavras só atrapalham. Fazer amor é mais como fazer filmes.
— Era bom que não precisássemos de tantas teorias.
— Mas quem é que precisa? Só que também era bom que todos fôssemos, decididamente, mais honestos.
— Que sugeres, para continuar?
— Que apagues a luz, por exemplo.
Ela apaga.
— E que mais? — pergunta.
— Agora vou procurar-te.
— Tenho de fugir.
— Não.
— Então encontras-me já.
— Não sei. Nunca se sabe.
— Porquê?
— Porque é assim.
FALA UM DESCONHECIDO
FALA UM D.J.
uma discoteca como esta é uma salada é gente de todas as modas os tipos que andam a levar as bebidas e a despejar cinzeiros andam na casa dos quarenta ou então são miúdos e dos clientes vai-se dos dezasseis até aos noventa eu baixo o vidro para ver melhor e gozo tenho a minha namorada à espera e estou-me a lixar para o resto não digo nada ponho música e pronto não há trabalho mais fácil pôr música e beber cerveja mas também é verdade que começo a ficar farto disto é sempre o mesmo
investir é que é preciso virar esta treta toda de pernas para o ar um dj também pensa no futuro chegam aí querem é foder eu sei bom então porque é que não hão-de preparar o assunto numa casa minha para eu ficar com a fatia maior do bolo e não outro patrão qualquer? Ser patrão não custa nada e é nisso que tenho andado a pensar sopinhas e descanso
Bom, como não o encontrámos e estávamos com fome, fomos até ao bar que há no Mercado Municipal e que está aberto a noite toda, e o Tó (que é fotógrafo) roubou uma maçã de uma caixa, e a velha que era a dona das maçãs e da hortaliça veio um bocado atrás de nós, aos berros, e chamar-nos filhos da puta, e o Fernando disse-lhe: “puta era a tua avó”, e ficámo-nos por aí, com os tipos dos camiões que estavam para descarregar a olharem-nos com pinta de maus. Estava um bófia à nossa frente, na fila para os bolos & cacau, e o Rui, que é maluco, lembrou-se de lhe apetecer vinho verde e começou a sarnar-nos o juízo, a dizer que ninguém ia beber café com leite, beber era vinho verde, estava fodido porque uma tipa lhe dera um estalo na discoteca porque ele lhe tinha apalpado o cu, mas ela também não estava a pedir outra coisa, bom, de qualquer modo o Rui ficou fodido e devolveu-lhe o estalo, e depois vieram os amigos dela meter-se ao barulho, uns sonsinhos de merda que até davam dó, e então metemo-nos nós, e a água não chegou a ferver, um dos tipos ainda disse: “ela é minha namorada”, mas o Fernando, que é um tipo com um metro e noventa, falou-lhe por cima da cabeça: “Ah sim então mete-a no cu”, e ficou tudo mais tranquilo.
Depois fomos até à beira do rio e o Rui ainda estava fodido e cheio de dinheiro e quis voltar atrás e pagar bifanas e cerveja a todos, mas ninguém aceitou porque estávamos um pouco mal-dispostos e cheios de sono. Encontrámos então duas raparigas que também tinham estado na mesma discoteca que nós e pusemo-nos a chateá-las, mas havia uma que era conhecida do Tó, e ele disse: “este tipo é maluco, não lhe liguem”, e o Rui disse: “somos todos malucos, estamos fodidos”. Já estava era superbêbado, de tal modo que depois não queria ir para o barco, e disse que ia morrer, e por isso tivemos que ir a empurrá-lo, e ele lá acabou por ir. No barco, vomitou. O Fernando ria-se, com grandes gargalhadas, e o Tó, por momentos, pareceu que também ia vomitar, mas lá conseguiu escapar-se com um sorriso retorcido.
Estava uma noite quente, e foi pena não nos termos divertido mais, mas estávamos todos um bocado esquisitos, não sei porquê. Nem os copos nem os charros nem as mulheres nos animaram coisa que se visse. Mas às vezes é só isto, e mais vale deixar passar.
Cheguei a casa eram seis e trinta da manhã. O Carlos, só o tornei a ver na segunda-feira.
Um barco que se aproxima para nos levar determina-nos o futuro. Apressa-o. Assim está Carlos, a querer vier depressa — uma semana de repente — por causa de uma mulher. E nem sequer gosta dela, apenas a acha simpática, agradável, generosa, qualquer coisa boa e leve como estas.
O ferry baloiça, ou melhor, soluça, sobre as ondas de brincar, e o sol cintila rei, por toda a água suja, espalhada até ao horizonte. Carlos fuma um cigarro enquanto vai na brisa pela proa, a levantar-lhe o cabelo como se fosse uma bandeira. Uma bandeira negra, uma pirataria fabulosa.
Beber e comer e fumar e vomitar e foder e dançar e andar e pensar, tudo isso junto o deixou saciado e cansado. Mas ele teima em progredir, em aguentar-se a flutuar, como um náufrago numa piscina. Não ao cansaço, não ao sono, não ao tédio. Nem que venham tubarões.
O rio é evocativo, o rio é uma perdição. Mas agora já vamos longe dele. Num café, Carlos encontra conhecidos da luz do dia: são outras gentes, outros ensejos. Carlos fala-lhes na mesma. Antigos colegas de liceu. Trintões modernos. Jogos de sobrevivência para todos: cara alegre, muita paciência. Mas estão todos fodidos, pensa Carlos. Também eles. E todos os que não conhece. É uma foda geral. E mais uma, para os velhos, sempre madrugadores: já têm pouco tempo, desesperam em mil tentativas falhadas para aproveitá-lo. E falam muito, ou então não dizem nada, ou só resmungam, mas é tudo igual. E outra para os trabalhadores em circulação, os que fazem turnos, os desempregados, branco velho ou bagaço às sete da manhã- (Donas de casa. Miúdos).
Carlos, ele só, vê-se apanhado no meio de todos estes grupos moribundos, e começa a disparatar: diz coisas sem jeito, ri alto, bebe cerveja. Às tantas já nem ele sabe porque se ri, qual a grande piada. É tudo muito divertido, seja drama ou comédia. Nem mais: puro teatro.
Depois, a pouco e pouco, vence nele a necessidade de saltar para outro meridiano. Lança calor no ar e o seu balão começa a subir. Agora já sabe porque se ri: embriaguez das alturas. Mas, no fundo, está exausto. Anda a matar-se aos poucos, e os primeiros sinais de morte são essa indolência e esse riso que não descolam da sua existência. E, conhecedor do seu fim, consome drogas por causa da pressão de tais sabedorias. Por isso também consegue compreender que haja gente que escolha as soluções duvidosas: roubar, matar, mentir, as outras drogas mais implacáveis. As circunstâncias é que determinam qual o desporto a praticar. E é uma merda. (Uma merda tão grande...)
Carlos a subir a avenida, a arrastar-se para subir, Carlos a entrar em casa, a dizer bom-dia, a perguntar o que é o almoço, Carlos a pôr música, a deitar-se sobre a cama, vestido, com a persiana meio-descida, Carlos a fumar um último cigarro, adeus-mundo-cruel, a folhear um livro, a jogar com palavras, Carlos a fechar os olhos, Carlos a lembrar-se, Carlos a adormecer.
PIEDADE PARA OS HOMENS, por Luís Miguel
À entrada do bar vai a azáfama habitual das noites de sexta. Já passa da meia-noite quando ela chega. Cumprimenta o porteiro e entra. Conforme vai avançando pelo corredor que leva à pista de dança, a música cresce, entra nela, e então, de repente, explode, através das luzes nervosas e dos corpos que se agitam.
Senta-se ao balcão e pede uma cerveja. Logo um rapaz se acerca dela. Beijam-se nas faxes, trocam algumas palavras, riem-se. Ele poisa uma mão num ombro dela; depois, acaricia-lhe o cabelo, e sussurra-lhe qualquer coisa ao ouvido. Tornam a rir-se. O rapaz afasta-se, outro toma o seu lugar, as cenas repetem-se. Ela acaba a cerveja e vai dançar. Uma sensível clareira abre-se na pista para que se possa mover à vontade. Os homens querem vê-la.
Um fio de suor começa a correr-lhe o rosto, consoante a música vai crescendo e ela se lhe entrega, e aquela gota de líquido transparente e salgado parece encerrar na sua fluidez a profundidade da promessa de coisas mais concretas: as pernas dela, de uma suavidade de mármore polido, os seios que parecem querer saltar-lhe da blusa, a boca entreaberta, os olhos fechados, o cabelo selvagem de feiticeira moderna. Até as outras mulheres reconhecem que é preciso dar-lhe mais espaço, porque ela está a arder, é uma mulher em chamas.
Poder-se-ia dizer que se sente próxima da felicidade, em momentos assim. Sente que é necessário haver alguém que ame todos aqueles corpos de guerra com pouca alma, e julga-se a escolhida. Envolve-se de tal modo nessa crença que chega a ser capaz de não deixar de pensar, entretanto. “Pobres rapazes, pobres brutos” — como eles têm necessidade de porem os seus cansativos sexos em toda a vida, frenéticos, rápidos, pesados. E, todavia, também ela reconhece em si esse frenesim de abrir o corpo à instantânea brutalidade do prazer. Daí os seus sentimentos piedosos, directamente nascidos da própria luxúria da situação: juventude, liberdade, embriaguez. Apetece-lhe dizer: “vem, bruto, meu filho; faz-me amor aqui mesmo; vá, porco, foça nesta pérola que te cega, encharca-me de ti de alto a baixo, porque eu entendo-te, e por isso permito-to”. No fundo, é como se dissesse, porque pensa: “oh, como é delicioso o peso desta carne firme e sem miolos, como é inimitável a indiferença, o odor, a cegueira de todos estes homens que se deixam seduzir por bonecas, homens tão egoístas que só reconhecem o prazer das mulheres porque esse é mais um motivo de orgulho para eles mesmos. Não há homens mais sinceros que estes. Só através deles uma mulher se pode permitir sentimentos intensa e absolutamente humanos. Não, amor não — somente uma paixão ditada pela carne, o corpo jovem, a fome de sensações brutais e imediatas”.
Sentado ao colo de um homem, nem por isso os outros se proíbem de a olhar. Que interessam as outras mulheres, flores murchas, freudianas do que a mamã diz? Sim, ela sabe muito bem até que ponto vive nelas a inveja. “Azar, meninas, azar”, pensa, com riso e pernas abertas, a cabeça a agitar num momento supremo a juba felina do cabelo iluminado, ela e só ela, absolutamente certa de que só o sol nasce para todos. Não a beleza. Não a sensualidade. Não o animal livre.
Dançamos? Dançam. O homem beija-a, e ela sente-se a fugir do chão- Abre os olhos, surpreendida. Mas não é senão ele a erguê-la no ar, enquanto dançam. Ri-se mais. Adora rir, e sabe bem como esse riso franco e cristalino pode provocar a loucura. No meio do fumo de tantos cigarros sempre a arder, através dos perfumes caros e baratos, o odor que impera é, no entanto, esse: o do sexo. Um odor escancarado, febril, embriagante. O odor pelo qual todos se encontram ali, com os olhos mais abertos do mundo, na ambígua obscuridade — porque se vê, porque se pode tocar-lhe.
Quando se gosta, o tempo voa. E agora ela desliga o sonho que o seu corpo e o seu desejo e a sua fantasia inventaram, e diz que já é tarde, e que tem de ir. Mantém-se sedutora e atenciosa, mas o rosto é já outro: passou de rainha louca a rainha somente.
Oh, ela é a dona dos homens. Acaba de beber e diz: “vou-me embora”. E vai, avança corredor fora, o passo decidido. Despede-se do porteiro e entra de novo na noite absoluta, a noite das estrelas e dos segredos. O homem, ainda junto a ela, acompanhando-a como uma sombra, tem o coração pequenino. Mesmo assim, não sabe o que lhe há-de fazer. Provavelmente, conquistaria o mundo. Bastaria um gesto dela. Mas ela não o faz: basta-lhe saber que poderia fazê-lo, se quisesse. Coração pequenino, grandes estremecimentos. E como ela se sente bem, boa, piedosa.... Compreende perfeitamente os homens. Coloca-os sobre o pano verde e joga-os. E ganha sempre.
Outros homens que, entretanto, também saem, olham-na agora a outra luz, mas reconhecem que a mulher é a mesma — fêmea louca, lagoa de águas quentes. O que esteve com ela ao colo despede-se com um beijo longo e profundo, ansioso de muito mais. Ela sorri, dança para ele ainda mais alguns passos, um instante, e desaparece, dentro do carro de alguém que lhe oferece boleia até casa. Mas toda a gente sabe que, na próxima sexta-feira, ou até antes, talvez, se for esse o seu capricho, ela aqui estará novamente, eterna como uma deusa, e nos corações pequeninos de todos estes guerreiros da última hora, príncipes sem reino, novos e melhores planos de conquista começam já a ser forjados. Perante ela, dona dos homens, não há homem, pensam eles, que não possa vir a ter a sua oportunidade. E vale a pena, não há dúvida, porque ela é realmente uma mulher de sonho, uma mulher magnífica, um sonho que ri, perdidamente, piedosamente...
Carlos desperta às duas da tarde, de repente, mas só em parte, porque sabe que não há nada a fazer, e por isso só acorda por completo lá para as duas e meia.
Tensão: ter sono e não conseguir dormir. Malditas noites de boémia, maldita vida doentia. Tensão: não querer dormir e só ter sono.
Veste-se sem se lavar e sai, com óculos escuros, que a luz incomoda-o. Indeciso, distorcido, ressacado, compra um daqueles jornais que nunca costuma comprar e lê artigos salteados e sem interesse, até que se farta, após uma cerveja, e desaparece. Três horas agora, e já está em casa outra vez. Não come nada. Não há nada a fazer. E adormece novamente, a ouvir música. Chiu. Não façam barulho. Deixem o rapazinho dormir, que aquilo passa-lhe. Pensem: “se a cidade já é grande, então há-de haver outros sítios para ir”. E vamos: nós, os que só olhamos, que só pensamos, que não vivemos. Porque — disso não duvidem — todos estes personagens respiram, todos eles estão vivos, embora roubados à realidade, e deturpados em enredos de papel. Nós não: somos abstactos, somos umas invenção dos personagens; escrevemos, lemos, discutimos tudo isto... (É perfeitamente plausível, assim, que eu me aproxime de um espelho de um espelho e, vendo-me, pergunte: “existirei eu alguma vez?”)
Devagar. Ainda é dia. Vá, passarada, toca a fugir das árvores: o verão já acabou, vêm aí os bonecos de neve dos postais ilustrados. Oh, este frio não é bom, não é nada bom...
Esta cidade não tem palácios que se vejam, os homens novos são mal encarados, o cemitério tem seis ciprestes e é ventoso (quem cospe para o ar, cai-lhe o cuspo na cara). Os subúrbios não são de ninguém: os edifícios têm as fachadas sujas, encavalitam-se uns nos outros como cágados num aquário sujo, o vizinho de cima toma duche todos dias às cinco da manhã. Rezam as crónicas mais zelosas que é difícil respirar aqui. No entanto, abundam os heróis comuns. E os passeios têm vinho seco, tinto, vomitado às três da manhã, agarrado a refeições improváveis que se parecem sempre com feijoada. E todos os baloiços dos parques infantis chiam. E o sol nasce de cesariana.
Esta cidade não tem padres: o clero só manobra no escuro, conspirativo para glórias antigas. Não obstante, os deuses continuam a arrastar multidões.
Esta cidade não tem reis: a nobreza toma partido, os condezinhos adormecem nas cçadas, sim, sim, pastam fêmeas, princesas...
E o povo dá gorjetas, canta aleluias nos jardins... Vai ser Natal em breve, que é sempre em breve, vai haver mesas fartas, a hipocrisia vai fazer grandes negócios.
Sábado, sábado, bruxas dançando... Uma azáfama sem fim pelas ruas, a cidade não pára. O fim-de-semana é um logro: um posto de gasolina onde se enche o depósito com combustível de terceira. As pessoas são roubadas e enganadas em tudo o que existem: é preciso pagar impostos, armazenar comida, limpar o po, ensinar a tabuada a uns filhos, mudar as fraldas a outros, é preciso comer e lavar os pratos e colocar novas prateleiras nos armários e pensar na sociedade do futuro, a sociedade do lazer, a sociedade anónima da felicidade pura e simples.
Afinal, afinal, o que é o grande tédio? Nada mais que uma protecção, tão necessária À sobrevivência como o alimento.
Carlos dá uma volta imaginária na cama, coloca o cérebro noutra posição, dentro da sua cabeça oca, é preciso sonhar outra coisa.
Quanto a nós, continuamos a andar. Um cão segue-nos. Chamamo-lo e ele aproxima-se, humilde, afável, a cabeça baixa, a cauda a abanar, o nosso melhor amigo. Assim podia ser a realidade: simples, generosa, obediente. Às vezes excede-se a si própria, e é isso mesmo: realidade ao alcance, à medida de todos. Por exemplo: “o verão não se vai embora”. Os pássaros sentam-se nos ramos das suas casas, com palhinhas nos bicos, e contam aos netos, ainda nos ovos, as aventurosas histórias de todas as suas antigas viagens. (Nunca se deve esquecer o que se vive, se bem que agora já não haja grande pressa). “Fabuloso fim de tarde”, pensam o melro, o pisco, o pardal, a andorinha...
As pessoas entram na confeitaria, passam pela secção de provas, trocam impressões umas com as outras: “os pastéis estão excelentes”, “experimente aquele com chantilly”, etc. E o café é de S. Tomé, tem um Equador no meio.
Quanto à cidade, já não tem festas: de facto, é agora uma cidade completamente festiva — fim das máscaras, fim do Carnaval, fim dos três dias de excessos: a vida, que é só dois, é muito mais importante. Há anos atrás seria ridículo, por exemplo, um homem vestido de senador romano atravessar a maior avenida da cidade às cinco da tarde. Agora, já nada disso é: estamos todos doentes de verdadeira saúde, e o próprio país parece querer render-se a esta força maior que qualquer magia. Ainda há segredos e conflitos, é certo: mas, senhoras e senhores, felizmente nada é perfeito. Todavia, já há futuro, ou, pelo menos, uma hipótese de futuro: o presente. Este. E Carlos, Carlos, acorda que se faz tarde, acorda: agora já há uma cidade e uma vida onde podes caber, livremente.
FALA O CARLOS (sonâmbulo?)
Civilização: um caracol gigante com a casa às costas, as costas cheias de equimoses e a casa cheia de lixo.
DIÁRIO DE CAFÉ DE LUÍS MIGUEL (fragmento)
Agora estou no café do costume e isto, tantantan, sou eu a bater com a ponta dos dedos sobre o tampo da mesa. Estou intimamente impaciente — com uma incrível vontade de foder, creio — , mas não se vê, ou não se percebe bem, porque nenhuma bela se aproxima de mim para me aliviar. De qualquer modo, o que é que se vê seja de quem for, para lá do que nos é mostrado?
Acho-me inesperadamente a olhar para uma morena que acaba de entrar, um pouco cheia de formas, com penteado moderno e pulseiras nos braços e uma no tornozelo e muitos anéis. Não é preciso despi-la para saber como age na cama: basta apenas ver-lhe o rosto, a forma como concede o olhar, através de uma maquilhagem com muito lápis preto, a condizer com as íris também escuras, e, de algum modo, acolhedoras. E aí estou eu a contradizer-me.
O empregado, que já me conhece tanto antes como depois do pequeno-almoço, tras-me um café, que não pedi mas que, felizmente, é o que pretendo tomar. Peço-lhe também um maço de cigarros e retomo o assunto da morena. Tento tomar-lhe de novo o olhar mas, após uma breve luta, ela desvia-o. Como são enternecedores, os pudores das raparigas...
Ao fundo, entretanto, do outro lado, está outra morena, também com uns olhos deliciosos, mas essa já está habituada a ver-me aqui, e tira-me sempre as medidas, sempre com o mesmo descaramento subtil, a boca pequenina mas prometedora, namorado ao lado.
A minha rua é assim, é todas as ruas, cheia de mulheres e de raparigas desejáveis, desejadas, comestíveis, canibalizáveis, extraordinárias mulheres que me enchem o peito e o baixo-ventre de saboroso sofrimento. Oh, tê-las a todas, não como homem somente, mas também como anjo, figura celeste caída nesta vida sem sentido precisamente para lhe dar algum...
Amor? Nada de amores: paixão. Um mundo de prazeres feito.
/.../”
FALAM OS EMPREGADOS DOS CAFÉS E CERVEJARIAS
já estou nisto há vinte e dois anos até perdi o cabelo mas isso é do sangue dizem pois é vinte e dois anos nesta vida bicas bolos torradas sumos cervejas depois é sempre a mesma miudagem eu até gosto deles mas um tipo cansa-se embora não seja má vida conheço toda a gente bolos bicas torradas bagaços então como vai? é militar já reformado passa aqui as tardes a falar alto dois cafés? é para já
pois agora estou aqui arranjei um sócio e abrimos esta casinha já estava farto de trabalhar para os outros e não ter nada de meu era agora ou nunca que um homem tem de pensar na vida e depois eu tenho dois miúdos e a mulher já está grávida outra vez e os preços sempre a aumentar olha arrisquei ainda não sei se foi bom negócio ou não estou cá para ver só servimos pratos típicos ao almoço não falta gente mas ao jantar estamos quase sempre vazios só meia-dúzia de clientes de qualquer modo é nova ainda se está a fazer aparece quando quiseres olha à sexta-feira é sempre cozido à portuguesa tu já sabes como é que eu sou a trabalhar é tudo do melhor
Senta-se e arrepia-se. Depois, zombie casa fora, liga o esquentador e respira fundo na casa-de-banho, a fazer a barba, e corta-se, e amaldiçoa a lâmina dupla para um duplo golpe e a água pouco quente. Mesmo assim prolonga o duche por meia-hora, sempre à espera que alguém o amaldiçoe a ele, pelo esbanjamento. Mas nada. Devem estar distraídos.
Agora já tem os poros limpos, já é o homem novo. Vá, roupa lavada e não se pensa mais nisto.
Senta-se depois na cama, a cortar as unhas, um pé a marcar o compasso da música que pôs a tocar no gira-discos. Vê-se ao espelho, numa olhadela fugaz. Sempre a mesma melena despenteada. Boceja. Abre um livro de banda desenhada. Peripécias. Assume a pele do herói: há sempre uma mulher que vale a pena conhecer, e assim já se justifica a melena rebelde. Acende um cigarro. Acordar, acordar: parece-lhe que há uma parte de si que adormeceu para sempre, esmagada sob um peso que ele não previu, porque não é seu, mas uma imposição, uma ironia do acaso, que escolheu para agentes os que lá dentro, ao jantar, a todos os jantares e almoços e em todos os outros momentos, o hão-de olhar uma vez mais, vezes de mais, com aquele sempre igual ar acusatório, de meio-desprezo, intransigência, surdez, cegueira, pequenez, sujidade — pesadelo de liberdade condicional, toneladas de chumbo a enclausurar o pensamento, tenebroso acaso, absurdos agentes —, embora o que mais custe seja essa lucidez de homem que sabe que o estão a matar, e sabe que vai morrer, e não pode fazer nada, mesmo querendo fazer, mesmo com tanto para fazer, porque fará sempre tudo errado.
Rodopia a cabeça no eixo do pescoço avariado, caleidoscópio de cinzentos no sentir, tudo sem sentido, heróis só de papel.
“Será que corro o risco de enlouquecer?”, pensará ele. E: “dói tanto que já não é dor”.
O estômago vazio faz um ruído ferrujento de carrocel sem freio, o frio assoma de dentro e torna a arrepiá-lo, mais um andar desperta no grande edifício da consciência.
“Longe de mim a sabedoria”.
“Que farei hoje que ontem não fiz?”
“Que medicamento devo tomar?”
Carlos poderia pensar isto, se tivesse a sensibilidade serenamente afinada para a compreensão da grande confusão de todas as coisas. Mas não tem, não pensa, e por isso pensamos nós, que para tal nos sentimos mais vocacionados. Que se saiba apenas que o pensamento de Carlos, o único que agora lhe assiste, é uma espécie de cavo rumor, talvez semelhante ao que fazem as toupeiras quando escavam os seus túneis. Ou a um motor, a vibrar ao ralenti. Mas é uma vibração árdua e tossicante, que parece capaz de, a qualquer momento, lhe desconjuntar o esqueleto, separando os músculos dos ossos. É como a tortura de um suspense sem desenlace. É mal-estar. É sempre o mesmo belo tecido macio, sempre maculado pela mesma nódoa indelével.
E o tempo passa. O jantar, rumina-o ele em piloto automático, boi mecânico. Alhures. Nenhures.
Sai. Toma um café. Mais abaixo, uma cerveja. Toca o gongo: novo round. A vida são dois dias, o fim-de-semana três. Feliz outra vez. Happy again. Singing in the rain, happy again. Toca o gongo: acordar, acordar, acordar.
Puta de felicidade. Encontra alguém conhecido, está a rir, e algures está um espelho, e por instantes vê-se nele, a rir, o corpo a ondular no sentido desse riso, e nota então qualquer coisa no seu rosto que lhe faz lembrar uma caveira, e assim ri mais ainda, nós vamos conseguir, com caveira ou sem ela, que importa?, empatados ao intervalo, passa a bola, passa a bola!, nunca devemos querer a bola só para nós, isto é uma equipa, não importa que os salários sejam desiguais, hoje vou gostar de toda a gente, toda a gente é basicamente engraçada, basicamente desinteressante, onde é que está o treinador?, acho que vou chutar, vou chutar, vai ser — golo!
Vem, vem, diz ela com os olhos.
— Ele vem — diz a segunda rapariga gorda.
— Bebem mais alguma coisa? — pergunta a terceira rapariga gorda, pena que seja tão feia, a beleza interior está muito bem, mas que se há-de fazer?, não chega.
Carlos hesita, faz que hesita, não hesita — é tudo igual: sabe que irá, e que irá enfiar os dedos frenéticos e bêbados no sexo sumarento de uma das raparigas gordas (ou de qualquer outra), sentir-lhe o suor conquistado na dança, e que se lixe, que se lixe a rapariga morena — e no entanto... — que se lixe — e no entanto — que se lixe — e no entanto — o melhor será não confundir as coisas.
Beber? Claro que bebem mais. Claro que as coisas são muito claras. Claro que se vão divertir. Pois não diz a música “I’m happy again”?
“Há alguma doença nisto?”
“Em quantos problemas estamos ao mesmo tempo?”
“Quem é que deixou o mundo chegar a isto?”
Porque não? Porque não há-de ser possível ele pensar as coisas assim? A estupidez é uma mulher fútil que usa um bom perfume. Os pensamentos são o perfume da mente a esvair-se.
Carlos está consciente.
FALA A ANABELA (desempregada periódica, estudante periódica)
Venho da minha casa até aqui, são nove da noite, sei muito bem que me devia deixar disto, para não acabar por morrer de tédio, mas uma pessoa anda sempre à espera de que aconteça algo que a anime, e, quando não se encontra, o mais fácil, de facto, é ficar, neura, e depois toda a gente me diz: “andas triste”, “precisas é de um namorado”. Enfim, não há quem não me proponha, assim, a sua versão de bom consolo. Dizem que sou boa e pequenina, falam do meu cu, e eu importo-me mas já não me importo, não me importo, vai o rebanho e eu vou com ele.
Estamos no pub, a música é má, bebemos cerveja. Às vezes aparece um que diz: “estamos mortos”. Estamos, é verdade. E então? Mortos mas cheios de ideias maravilhosas. Dizemos muito, queremos muito...
/.../
Hoje já estou farta de beber. Está quieto, deixa-me as pernas em paz, ando muito susceptível, excito-me depressa. Então e tu, também nunca mais tens juízo? Aqui há dias vi aquela tua antiga namorada esquisita, até estranhei, falou-me muito bem.
Mas é como eu te estava dizer: às vezes quem me safa são os meus primos; vou passar o fim-de-semana com eles, os tipos são doidos, passamos o tempo a beber e a fazer parvoíces, maluqueiras, mas pelo menos sempre saio daqui. Aqui só tenho a Paula, mas ela tem o namorado, sabes como é, e agora, para mais, vão casar-se. Hoje estou cheia de sono, mas depois chego a casa, deito-me e fico a olhar para o tecto, esbugalhada, e não se vê nada, metade da noite nisto, tomo comprimidos para dormir, depois tenho de tomar comprimidos para acordar. O meu pai? Continua a engraxar-me os sapatos, sim. É muito querido. E a minha mãe agarrada ao coração. Ah, uma novidade: já tenho um quarto só para mim, e comprei mobília nova. O que andas a ler? Mostra. É bom?
Está quieto. O que é que têm as minhas mamas? Os bicos espetados? Estão sempre, já te disse que ando muito susceptível. Ficam enormes. Eu sou pequenina mas em mim tudo é grande. Não me ligues, hoje estou em dia não, ainda ficas mais triste do que estás. Vamos mas é beber mais um copo. Este ofereço eu.
SEMENTEIRA, por Luís Miguel
Certa vez, talvez aqui, tive uma alucinação: de costas para a porta do café, sentado, a beber uma cerveja, pensei: “se sai agora, virar à direita e caminhar sempre na mesma direcção, digamos cinquenta metros, estarei na praia...”
E a praia mais próxima estava a sete quilómetros. Mas não é disso que aqui se quer falar. Nenhuma alucinação a referir, digo. Tudo isto é real: a minha cidade forçada, a sua imensidão de camas sonolentas ou activas, os inúmeros jogos do grande jogo que a vida é. Uma lotaria. A minha cidade de sonolência activa, onde todos conhecem todos e as raparigas começam a ter os seios volumosos logo aos treze anos de idade, pouca, e sede muita. A minha cidade de activa sonolência, pois, onde uma incrível turbulência de nada parece nascer dos colchões do próprio langor.
“A minha cidade”, penso eu, às vezes, como se não pudesse fugir-lhe, ou como se precisasse de escapar-lhe.
Já veio o verão este ano. Grupos estranhos interceptam-se, inesperadamente familiares, na mesma e maior dilatação de todas as coisas. São nove e meia da noite — as vinte e uma e trinta de todos os apetites que não incluem comida. Vejo aqui as mulheres do meu país, e penso que não de todo impossível que sejam as mulheres mais belas do mundo. Apesar da celulite que lhes surge a par do crescimento dos luminosos semiglobos do aleitamento. Apesar da estupidez, da mesquinhez, apesar do próprio país. E hoje estão ainda mais belas: tez de alma em chamas, e a roupa arejada, abrindo súbitas fendas para o reencontro da carne íntima com os olhares possessos. Hoje e todos os dias deste tempo.
Nove e trinta. E que mais facilitar, nesta noite de diamante, que mais dizer em perfeito juízo?
Estou com um pé apoiado no gradeamento que me separa da estrada. Acendo um cigarro e vou andando, até alcançar outra posição, de onde me é possível alimentar a ilusão de tudo ver, num só olhar; estou a fazer fumo no meu filme, os braços cruzados, a ensaiar a realidade plena da minha futura reencarnação.
E eis que, sem aviso, passa à minha frente um miúdo — um daqueles todo de ganga e ténis, um daqueles que joga à bola em cima dos carros dos vizinhos, provoca enxaquecas regulares nos professores e faz, pelo menos, três colecções de cromos —, ei-lo a passar à minha frente, em passo lento, a devorar com manifesta dedicação uma revista pornográfica. Doze anos, talvez, e duzentas raparigas reais aqui à volta, mas ele não as vê, elas que tão bem sabem o que isso é. A cegueira é só ver outra coisa. E aí vai ele, autómato da atenção, através de todos os grupos, de todas as rodas de rapazes e raparigas em subjectivo diálogo com objectivo, de todos os solitários em busca da divindade erótica. Vai caminhando sempre, transportando, na sua serenidade, a evidência, do que todos à sua volta pretendem. Depois, contornando a esquina, desaparece, rua abaixo. Penso, com alguma ironia, “missão comprida”.
Por certo que não fui o único a reparar nele. Busco sinais. Noto assim uma mão que ainda aponto, um riso que se cristaliza no volume máximo, qualquer coisa de flamejante em alguns olhares. E penso (penso sempre): “o que é a realidade, afinal?”
A existência inclui, em si, na sua origem, a sementeira de todas as realidades? E será necessário um agente de fecundação — um miúdo rua fora a ver uma revista pornográfica, por exemplo (e é bem verdade que até mesmo essas putas em papel são filhas de alguém...) — para que se concretizem as colheitas que se esperam? Ou será um miúdo assim a própria consciência da sementeira?
São dez da noite, e a minha cidade, após estes acontecimentos, permanece a mesma, nem que seja em aparência. Lentamente, os grupos começam a dispersar, para refazerem a noite em outros lugares, com certeza. E eu penso: “está na hora de ir ver o mar, sim, de reaprender a sentir, e depois a pensar; a cada momento inauguro em mim novas sementeiras; o miúdo não vai parar”.
Contada a história, procuro-lhe uma moral. Fá-la-ei, se preciso for. Não vou parar.
Onze da manhã e Luís Miguel ainda na cama, em dissertação muda e pachorrenta:
“A literatura dos meus contemporâneos está podre. A minha incluída.
Exercícios de estilo? Quase tudo.
As pessoas não se embebedam de caixão à cova, não fodem alegremente como cães, não são reais. Não há pessoas.
Problemas existenciais com dinheiro? Quase todos.
Ninguém uiva nas ruas. Não há amok. Não há céu nem inferno: apenas um lento e enjoado purgatório, à espera de um juízo final, uma grande guerra de moralistas que conceda amnistia a bons e a maus”.
Poderia, no entanto, ser mais simples. Tudo. Exactamente tudo: os mistérios de nascer, crescer, viver e morrer. Podia ser verão e haver praias desertas. O inverno podia dizer morte, mas a morte não matar.
Luís Miguel, escritor por força dos factos, escritor em vias de extinção, lembram-se dos dias em que arrisca ser alguém parecido com alguém; consigo próprio, essencialmente. E é sempre na rua que lhe acontece, brilho, amor, vida. Mas sente-se incompleto: uma simples opinião adversa, uma breve desilusão, e o castelo de pedras passa a castelo de cartas, o vento sopra, o castelo cai. Tantos exércitos contra um pouco de felicidade. E é por isso que os domingos não prestam, os dias não prestam, as pessoas não prestam. A música saloia atroa os ares, há missas para crianças e velhas, passeios em jardins, matinés com os últimos êxitos em celulóide. Odeia-se isto, então odeia-se o ego confundido, os ascendentes, as amizades e até os desconhecidos.
Aos domingos, Luís Miguel pensa sempre que não conseguirá sair da cama, nunca mais. Hoje, no entanto, ainda não será esse dia, porque tem encontro com a nova namorada, que é filha de boas famílias, como todos as namoradas de domigo são.
“Quem me dera ser decadente, maldito até mais não”.
Mas como não é, terá de cingir-se à insalubre certeza de uma vida vã. Contudo...
...Mas maldita é essa esperança, que o faz esperar sempre. “Talvez aos trinta”. Não? “Talvez aos quarenta”. E talvez envelhecer seja isto. Estupidamente. Futebolisticamente: ao intervalo, mudança de baliza; marcar golos, escorregar na relva molhada; novos jogos sempre, até mesmo para os veteranos. Diz-nos, espelho mágico: quem é o árbitro, nesta realidade? Que treinadores? Que adversários? Que público? Porquê?
Por não ser capaz de sair da cama é que sai, que pelo menos vai-se comendo, e é facto que já cheira a almoço: um odor abençoado, as boas intenções evangélicas ainda presentes no ecrã, toda a gente a mastigar empadão de hóstias.
Acaba de comer já com os desenhos animados de monstros maus e monstros bons (“os bons são bons porque só batem nos maus”) a sucederem-se ao noticiário. Regressa ao quarto. Fuma um cigarro. A cama já não é convidativa, e parece-se agora com o começo de um cemitério privado.
A namorada à espera. Talvez tenham combinado ir ao cinema, ver um filme qualquer, cumprir o dia. Mas a verdade é que não lhe está a apetecer vê-la. Fodê-la sim, beber vinho de boa colheita, dormitar ao sol, passear de carro junto ao mar, ao começo da noite...
Tudo o que deseja, e é um sonho que lhe fica distante. Para levar a namorada para a cama é mais uma semana, pelo menos, que ela julga-se virtuosa. E ele não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro nem objectivos muito precisos. Escreve umas coisas. Às vezes entusiasma-se. Às vezes nada daquilo vale. Palavras. Muito importantes, as palavras, etc.
Regressa ao ecrã, ao filme cor-de-rosa ou aventura da tarde. Toda a família. O olhar distrai-se, o pensamento viaja em sofás: é preciso escapar à monstruosa fantochada. Viva o cinema.
Acaba de chegar ao aeroporto num avião americano. A sua mala cheia de cocaína, pasta dentífrica e roupa, a sua mala desapareceu. Volta-se para o agente alfandegário ali mesmo junto a si, e afirma: “sinto-me em casa; este é que é verdadeiramente o meu país”.
Sai. Este o país, esta mentalidade, esta doença, este escorbuto das ideias, estes acasalamentos para proles de imbecis, estes infinitos domingos.
Sai de casa, está vento, vêem-se pessoas, não se vê nada, paz, paz. Haverá alguém com quem falar? Tem de haver. Podia começar a falar com uma pessoa qualquer, claro. A mulher a seu lado, por exemplo, apoiada como ele no balcão cheio de bolos, ambos a tomar um café fora de horas. Mas tem um ar de múmia aborrecida que só deixa espaço para o desejo de lhe dar um bom par de tabefes. E ele sorri, descorado.
Carlos roda a cabeça, pisca as luzes, blip blip, está um velho, um casal 40’s com ar antipático, uma garota de treza, outro velho, duas velhas, toda a gente com cara de pressa para ir a nenhum lugar, cara de pau, cara de pus. É espantoso como há tanta gente de trombas, tanta gente zangada com a vida, as coisas da vida, os bens e os males e os zeros, elefantes à parte.
A pequena-burguesia padece de duas doenças contraditórias: autocomiseração e desprezo por si própria. “Se és um pequeno-burguês, prepara-te: para te libertares terás de fazer um esforço titânico. Esta doença é como um cancro; se queres sobreviver, tens mesmo de querer viver. Muito. Acima de tudo”.
Depois da bica, automática, vai até à sala de jogos. No primeiro bilhar, dois tipos com ar de pais de família. Estão sempre lá. São peritos: os melhores, os que nunca hão-de ganhar o campeonato mundial, nem europeu, nem sequer o nacional, se é que o há, porque nunca irão concorrer, nunca irão atrever-se a subir os degraus da escada competitiva. Têm medo. São bons naquilo, bolas, tacos, tabelas, carambolas, mas só no círculo restrito dos seus amigos, naquela sala de jogos, naquelas horas sem fim em que os dias se igualam.
Na sala ao lado, separada da anterior por uma passagem sem porta, são outros os campeões, outros os amigos na glória, outras as idades. Mas também esses têm medo. Carlos não tem nem um décimo da habilidade nem da experiência de nenhum deles e, no entanto, seria capaz, de imediato (fanfarrona ele, preso em si mesmo), de seguir para diante, venham de lá os campeonatos e os campeões, venham as bolas polidas e o giz azul, e um charuto, fino, foi assim que viu num filme, e whisky, vamos lá então divertirmo-nos um pouco — porque não tem nada a perder e tudo a ganhar, a glória entre amigos e conhecidos é coisa do vulgo, e é isso não haver futuro nem glória nem valor para nenhum deles, mas tédio, só tédio, tédio e mais tédio.
De toda realidade lhe é permitido, porque possível, tiar ilações destas, mas depois é preciso continuar, e assim vêmo-lo passar então à outra sala, no seu passo firme mas vazio, sala-cela onde miúdos de cérebro fumegante, aos comandos das suas naves, das suas motos e carros, destroem alienígenas, ganham corridas de alta velocidade e aniquilam, com algum desdém, grupos inteiros de guerrilheiros terceiro-mundistas. Vê-lhes os tiques, os movimentos bruscos, a tensão nos rostos, e congratula-se, irónico, porque aquele vazio é ainda maior que o seu, e lamenta-o, sem moral, porque não sabe como há-de viver num mundo com seres como aqueles. Mil ruídos electrónicos diferentes entrechocam-se entre as quatro paredes, o fumo dos miolos queimados concentra-se junto ao tecto, e uma das maneira possíveis de respirar bem é tirar a pistola do coldre e começar a disparar indiscriminadamente para os ecrãs hipnóticos das máquinas, para os miúdos (eles vão entender, eles vão adorar), para o velho que troca as moedas e apaga os cigarros no chão, como toda a gente ali faz.
Entra na casa-de-banho, a tensão atenua-se, urina, vê-se ao espelho. Está de óculos escuros, o cabelo solto e com uma boa cor nas faces, ainda bem.
Sai do café sem olhar para trás, tenta não ver (basta ouvir), e os sons vêm todos ter com ele, e ele segue-os. Música, quer música — e depois muito silêncio, enfim.
Impossível. Impossível? Que soe a fanfarra, então. Um quarteirão para cima, outro para o lado, e aí está a discoteca, no centro comercial, o mais antigo da cidade. Cumprimenta o empregado ao balcão: conhecem-se há bastante tempo, só lhes falta terem andado na escola juntos. Vê as novidades. Os artistas, nas capas dos discos, são seres com uma pele muito limpa, e não estão com a roupa velha, nem mal-alimentados, nem velhos. Benditos fotógrafos que sabem os truques todos. Sim, ser artista deve ser uma bela vida: árdua luta, e de repente a fama. Até dá gosto, uma coisa assim. O mundo a seus pés. A solidão, a privacidade, a falta dela. As mulheres, as drogas. As desintoxicações, os escândalos. Ora, quem se importa? Quem se importa de morrer de dor e a sério quando tem o mundo a seus pés?
— Pões este? Nos auscultadores não: para fora. Temos de dar boa música ao povo.
O outro sorri: está habituado a tais comentários da parte de Carlos, que não fazem falta, mas que tornam as coisas sempre um pouco diferentes.
“O mundo a meus pés”, pensa Carlos, enquanto uma guitarra começa a abrir caminho através das glândulas da sua sensibilidade, e então ele descobre, numa visão que nada tem de místico, que a espécie humana não é originária da Terra, mas de um outro mundo, imensamente distante; a espécie autóctone mais semelhante com estes monstros era outra, mas foi devorada por eles, pelos humanos, canibais galácticos, que, vindos por aí fora, eliminaram também todos os outros povos do universo, e que só se estabeleceram aqui na Terra porque este era o último planeta em que ainda havia comida. E assim aqui ficaram, e agora comem-se uns aos outros, e são cada vez mais, e cada vez mais esfomeados, e isto não é nada bonito de se ver, até porque não se sabe como é que esta triste história vai acabar.
Um coro demasiado afinado canta um refrão interminável.
— A música — diz Carlos — foi a única coisa que sobrou do primeiro grande drama cósmico.
— Acontece — diz o outro, que não pode saber do que Carlos está a falar.
— O que recomendas esta semana?
— De discos?
— Sim.
E ali ficam meia-hora a discutir méritos deste e daquela, boas e más produções, grandes e pequenas vozes, grandes e pequenas canções, estas conversas são sempre a mesma coisa, quando se fala de música entre amigos ou é dicionário de referências ou chatice — ou ambas as coisas, o mais normal. E é futebol. E o mistério das mulheres. Chatice.
Depois Carlos sai, sem compra nada — como poderia fazê-lo, se tem tão pouco dinheiro? — e, na livraria do andar de baixo, encontra Luís Miguel.
— Então, que se faz?
— Arejo da namorada, estive com ela até agora.
— Quem é?
— Uma mulher.
Carlos ri. E pergunta, como na discoteca:
— Então, que recomendas?
— A Bíblia.
Decididamente, Luís Miguel está inspirado: é o que faz almoçar com desenhos animados por cima. E ter namorada. E ser domingo. E Carlos pensa que, talvez, um dia destes, lhe conte a história secreta da origem da humanidade. É bem possível que, a partir dessa narrativa, Luís Miguel consiga escrever a história também secreta do seu destino desconhecido.
Entretanto, está quase na hora de jantar. Até logo.
ESCREVE LUÍS MIGUEL (ao acaso)
O sexo não, o amor:
A doce princesa, doce e aflita, prisioneira do Vilão Negro no quarto mais alto do terreão mais escuro do sinistro Castelo do Mal.
(Música.)
Mas eis que, enfim, (novo apontamento musical, muito breve), passados anos, surge perante o Castelo, junto à ponte levadiça, o Magnífico Cavaleiro Branco, com a sua armadura resplandecente, o seu cavalo prateado (argênteo), a sua espada mágica.
Coro: refreia os teus doridos anseios, ó Princesa Cativa, pois o Príncipe Encantado vem salvar-te — e com ele, no seu imaculado coração, já unido ao teu, está desde o início a certeza da felicidade para sempre!...
/.../
Às quatro da tarde, enquanto espera a namorada, este rapaz vai deitando o olho às beldades locais em trânsito. Os cus arrebitados, as mamas cheias... Nisto, chega a namorada.
— Ronron — faz ela.
— Ôi. ‘Tão, tás fixe? — pergunta-lhe ele.
Ela pede-lhe um cigarro, e ele diz que está com azia.
/.../
Vencida pelo amor, a ponte ladiça baixa-se, até ficar de cócoras. O Vilão Negro podia muito bem ser o pai dela. Afinal, é capitão do Exército.
— Boa-noite — diz o rapaz.
— Boa-noite — diz o capitão.
— Boa-noite — diz também a mulher do capitão. — Quer um cafézinho?
— O filme é bom? — quer saber o capitão, inesperadamente.
— Não sei, ainda não o vi.
— Ah, pois — concorda ele. — O cinema estraga a juventude.
A filha do capitão dá a mão ao rapaz.
Irá ele apalpá-la no escuro, irá?
/.../
Todos estes humanos deviam abdicar um pouco mais de si próprios. É preciso amar. A vida está cheia de moral, e é preciso amar.
/.../
Ele chora porque a namorada, quando lhe vem o período, tem dores.
/.../
Ela anda com outras, mas ela ama-o perdidamente, e não vê, não quer ver. Faz dele um anjo. Ao que ele contrapõe: “ressacado”.
/.../
Agora, o Vilão Negro vive triste.”
FALA A RAPARIGA MORENA
Às vezes é fim-de-semana e decido: hoje vou beber e dançar e apaixonar-me”. Mas quando penso em me apaixonar, só me dá para rir. Não que eu não acredite no amor, ou na paixão que seja; a verdade é que, como diz uma amiga minha, quanto mais conheço os homens... Bom, não sei se será exactamente isso. Se não os rejeito, se admito que gosto de sentir um homem interessado em mim, deve ser mesmo outra coisa. Entretanto, já estou com vinte e três, quase vinte e quatro, não posso perder-me muito mais tempo em tais devaneios.
Acontece, por exemplo, que na sexta-feira passada fui a uma discoteca, “beber e dançar e apaixonar-me”, e conheci lá um indivíduo que depois, não sei bem porquê, levei para minha casa. Estava embriagado, e vomitou. Tomámos duche juntos, e fizemos amor. Disse-lhe que a casa era dos meus pais, o que não é verdade, é minha — ou como minha: os meus pais vivem agora em outra casa, deram-me esta, tive essa sorte.
Depois ele adormecue, e eu fiquei acordada, a pensar. Fi-lo despertar já o sol tinha nascido. Saímos para tomar o pequeno-almoço e estivemos a conversar um bocado, enquanto comíamos, e depois ele foi-se embora, com o meu número de telefone escrito num guardanapo de papel, e eu regressei a casa e só então é que me deitei para dormir. Dormi seis horas e acordei bem disposta e esfpmeada.
Combinámos tornar a encontrar-nos na próxima sexta-feira, na mesma discoteca. Agradou-me estar com ele, mas tenho pressentimento de que isto é apenas mais uma história de sexo-e-discoteca, sem mais. Não, não pressinto: sei. Porque já me aconteceu o mesmo, várias vezes. Conhecer um homem é conhecê-los a todos. No fundo, reconheço que gostaria de não acreditar em tais fatalidades. E, no mais secreto de mim, escuto a esperança, muito estranha, de que, na próxima sexta-feira, a realidade consiga negar as minhas apreensões.
Não quero pensar mais nisto.Não sei onde é que ele mora, o que faz, o que o faz mover. Só o nome. Não houve tempo para mais, creio. A culpa é minha, claro. Todavia (estou deitada, são duas da manhã), lembro-me do corpo dele, da sua voz, das suas mãos, do que me fez com elas, do que me disse, do que me perguntou. Confesso que, de algum modo, me entreguei toda a ele, admito que é muito pouco, e confesso que me sinto à toa, e por isso não consigo adormecer, mulher sozinha numa casa grande. Mas não conto carneiros. Penso. (Quero parar de pensar e não sei). Penso: “quem busca paixões acaba em sofrimento, quem procura ternura recebe sexo, quem precisa de compreensão encontra egoísmo”.